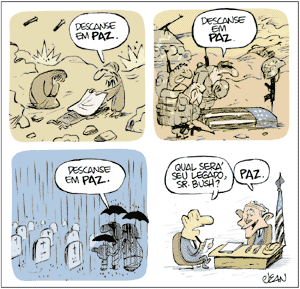BRASIL DE FATO
União assume defesa de chefes do Doi-Codi; “Lula vai ter que se posicionar”, afirma socióloga
Tatiana Merlino
da Redação
A briga pela punição dos agentes do Estado responsáveis por crimes de tortura, desaparecimento e assassinatos durante a ditadura civil-militar (1964-1985), sofreu um revés nos últimos dias. Dia 14 de outubro, a Advocacia Geral da União (AGU) assumiu a defesa dos coronéis da reserva Carlos Alberto Brilhante Ustra e Audir dos Santos Maciel, em processos que são acusados de tortura.
Ambos são alvo de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF) pela tortura de presos políticos e a morte de 64 deles, entre 1970 e 1976, período em que comandaram o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI/Codi), um dos maiores centro de repressão do regime militar.
O argumento da União é de que os crimes políticos ou conexos praticados durante a ditadura incluindo a tortura, foram isentos pela Lei de Anistia, de 1979. "A lei, anterior à Constituição de 1988, concedeu anistia a todos quantos, no período entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos (...). Assim, a vedação da concessão da anistia a crimes pela prática de tortura não poderá jamais retroagir", diz o documento.
Má interpretação
A ação do Ministério Público contra Ustra e Maciel é a primeira a divergir da interpretação de que a Lei de Anistia protege torturadores. No processo, os procuradores da República Marlon Weichert e Eugênia Fávero pedem que Ustra e Maciel sejam responsabilizados financeiramente pelas indenizações pagas pela União às vítimas da ditadura militar mortas, desaparecidas ou torturadas no Codi, além de que sejam proibidos de exercer qualquer função pública.
Em reação, o ministro Paulo Vanucchi (Direitos Humanos), disse que caso a AGU resolva manter a defesa dos torturadores, ele irá pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sair do governo. “Fui chamado para esse cargo pelo presidente Lula, e, apesar de estar com problemas de ordem pessoal aceitei, para poder avançar na defesa dos direitos humanos”, disse. “Ou para-se com essa ambiguidade [dentro do governo], ou voltarei à sociedade civil para cumprir esse papel”, disse, referindo-se à luta pela responsabilização dos crimes cometidos pelos militares. Segundo o ministro, a peça de defesa de Ustra produzida pela AGU será utilizada por torturadores em suas defesas.
Vitória na Justiça
Vanucchi, que esteve na cerimônia de entrega do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em São Paulo, dia 27 de outubro, citou a recente decisão da Justiça de São Paulo, que declarou Ustra torturador em uma ação civil declaratória movida por cinco integrantes da família Teles, todos torturados no Doi-Codi, sob comando do militar.
De acordo com especialistas, a AGU não precisava assumir a defesa dos coronéis na ação. “Essa posição é uma vergonha. Está muito claro que é uma decisão política”, avalia a socióloga Beatriz Affonso, diretora do Centro pela Justiça e Direito Internacional (Cejil).
Segundo ela, a função da AGU é defender os interesses do Estado. “Se fosse uma decisão técnica, optariam por defender o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro que foi pago em forma de indenização às famílias por danos morais causados por agentes do Estado”, salienta. Para ela, a posição da AGU deveria ser “no mínimo neutra, e mesmo assim, já causaria espanto”.
Estado negligente
Beatriz participou de audiência realizada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, dia 27 de outubro. De acordo com a socióloga, a audiência foi solicitada pelo Cejil, para esclarecer que a Lei de Anistia é interpretada no Brasil de maneira errada. “Fomos explicar como a Justiça vem funcionando no país no que se refere à punição de agentes do Estado que participaram de crimes de tortura, sequestro e assassinato durante a ditadura”, diz. Segundo ela, um dos objetivos da audiência foi fortalecer a idéia de que o Estado brasileiro não está investigando nem punindo os torturadores.
Beatriz reforça a tese defendida por juristas, pelos procuradores do MPF que ingressaram com a ação e pelos ministros Paulo Vanucchi (Direitos Humanos) e Tarso Genro (Justiça): “tortura é crime de lesa-humanidade, e portanto não é passível de anistia nem de prescrição”.
Tomada de posição
Com a mesma interpretação, e para se contrapôr à posição da AGU, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deu entrada, dia 21 de outubro, em uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual solicita que “os crimes praticados por militares e policiais durante a ditadura, como a tortura e o assassinato de militantes, não tenham a cobertura da Lei de Anistia”. De autoria de Fábio Konder Comparato e Maurício Gentil Monteiro, a ação da OAB afirma que “não podia haver e não houve conexão entre os crimes políticos, cometidos pelos opositores do regime militar, e os crimes comuns contra eles praticados pelos agentes da repressão e seus mandantes no governo”.
Na avaliação de Beatriz Affonso, se o governo Lula tivesse decidido fazer justiça e estivesse julgando e punindo os torturadores da ditadura, “não precisaríamos chegar ao ponto de ter que levar o caso às instâncias internacionais”. “Isso é muito triste. Quando vier uma sanção internacional, o país será obrigado a cumpri-las, entregando os corpos e fazendo justiça”, lamenta. Segundo ela, no entanto, antes disso, o presidente Lula vai ter que se posicionar. “Não dá mais para ficar neutro. Ele vai ter que assumir se quer ou não responsabilizar os torturadores”.
segunda-feira, 3 de novembro de 2008
A cegueira presidencial e a catástrofe econômica
Carta Maior
Assim como os primeiros exploradores do Grande Cânion, temos diante de nós um abismo de turbulência econômica e social sem precedente, que confunde nossas percepções prévias do traço histórico. Nossa vertigem se intensifica pela ignorância da profundidade da crise ou de qualquer percepção do abismo em que acabamos de cair. A análise é de Mike Davis.
Mike Davis - La Jornada
Permitam-me começar de forma bastante oblíqua, com o Grande Cânion e o paradoxo de buscar ver mais além do precedente cultural ou histórico.
O primeiro europeu que olhou até as profundidades do Grande Cânion foi o conquistador Garcia López de Cárdenas, em 1540. Horrorizado com a vista, se retirou com rapidez da margem sul. Passaram-se três séculos para que o tenente Joseph Christmas Ives, do corpo de engenheiros topógrafos do exército dos Estados Unidos, encabeçasse a segunda expedição de importância. Como García López, expressou um “assombroso, quase doloroso, presenciar”. Um conhecido artista alemão participou da expedição de Ives, mas o esboço que traçou do Cânion era delirantemente distorcido, quase histérico.
Nem os conquistadores nem os engenheiros do exército, em outras palavras, puderam encontrar sentido no que viram: ficaram sensivelmente melancólicos com a inesperada revelação. Num sentido essencial, estavam cegos porque careciam dos conceitos necessários para organizar uma visão coerente de uma paisagem radicalmente nova.
Só uma geração depois se produziu um retrato preciso do cânion, quando o Rio Colorado voltou à obsessão de John Wesley Powell, herói manco da Guerra de Secessão, e de sua celebrada equipe de geólogos e artistas. Eram como astronautas da era vitoriana num passeio de reconhecimento em outro planeta. Foi preciso anos de brilhante trabalho de campo para construir um marco conceitual que permitisse captar o canion em toda a sua complexidade. Com o “tempo profundo” da dimensão crítica foi possível, por fim, que a percepção crua se transformasse numa visão consistente.
O resultado desse trabalho, "História terciária do distrito do Grande Cânion", publicada em 1882, é ilustrado com obras mestras da arte do desenho que, como uma vez disse Wallace Stegner, biógrafo de Powell, “são mais precisas que qualquer fotografia. Porque – acrescenta – reproduzem detalhes de estratigrafista que em regra ficam obscurecidos nas imagens de uma câmera. Quando hoje em dia visitamos um desses famosos mirantes, a maioria de nós não está consciente de até onde nossa vista foi adestrada por essas imagens icônicas, o quanto nos influenciou a idéia, popularizada por Powell, de que o Cânion é um museu do tempo geológico”.
Mas porque se falou em geologia? Porque, assim como os primeiros exploradores do Grande Cânion, temos diante de nós um abismo de turbulência econômica e social sem precedente, que confunde nossas percepções prévias do traço histórico. Nossa vertigem se intensifica pela ignorância da profundidade da crise ou de qualquer percepção do abismo em que acabamos de cair.
O Retorno de Weimar
Permitam-me confessar que, como velho socialista, de pronto me encontro como o testemunha de Jeová que abre sua janela para ver que na verdade caem estrelas do céu. Ainda que leve anos estudando a teoria marxista da crise, nunca acreditei que viveria para ver na realidade o capitalismo financeiro cometer suicídio. Ou para escutar o Fundo Monetário Internacional advertir sobre a iminência “da derrubada do sistema”.
Por conseguinte, minha reação inicial à queda infame de 777.7 pontos em Wall Street, há duas semanas, foi uma euforia muito sessentista. “Tinhas razão, Karl!”, gritei, “comam seus derivativos e morram, porcos de Wall Street!”. Como o Grande Cânion, a quebra dos bancos pode ser um espetáculo aterrador, mas sublime.
Mas, claro, os verdadeiros culpados não serão levados à guilhotina: descem suavemente até a terra em para-quedas dourados. Pode ocorrer de o resto de nós estarmos num avião em chamas e sem piloto, mas o desprezível Richard Full, que usou o banco Lehman Brothers para saquear fundos de pensões e de aposentadoria, está dando cavalos-de-pau no seu iate.
Ademais, para além dos desertos de estuque da terra do comentarista de rádio Rush Limbaugh, o medo já se destila numa versão para cidadãos brancos rurais do mito da “punhalada nas costas”, que levou os pequeno-burgueses alemães da bancarrota à suástica. Se alguém escuta o programa de rádio AM desse campeão da ultra-direita, vai se inteirar de que o “socialismo” já se apoderou dos EUA, que Barack Hussein Obama é o candidato do terrorismo de Manchuria, que a queda de Wall Street foi causada por velhos negros que teriam empréstimos no Fannie Mae e que os esforços da organização ACORN para registrar votantes vinham há muito tempo alterando os padrões eleitorais com hordas de morenos ilegais.
Em outros tempos, a imitação que Sarah Palin faz de um Charles Coughlin – o sacerdote que defendeu um Reich norte-americano na década de 30 – de vestido teria arrancado gargalhadas. Mas agora, que o modo de vida dos americanos está em súbita queda, o espectro de um fascismo adornado com estrelas não se encontra tão disparatado. Pode ser que a direita perca a eleição, mas já um possui um plano sinistro, provado pela história, para recuperar-se com rapidez.
Os progressistas não têm tempo a perder. Diante de uma nova depressão que promete, de Wassila a Timbuctú, um mundo desconhecido de sofrimento, como podemos reconstruir nossa compreensão da economia globalizada? Até que ponto podemos contar com Obama ou com quem quer que seja dos democratas para que nos ajude a analisar a crise e que de pronto atue com eficácia para resolvê-la?
Obama é outro FDR [Franklin Delano Roosevelt]?
Se nos orientarmos pelo debate no “cabido” de Nashville, logo teremos outro presidente cego. Nenhum dos candidatos teve o brio ou a informação para responder às perguntas simples feitas pelo auditório: “O que ocorrerá com nossos empregos?”, “Até onde a situação piorará?”. “Que passos urgentes devem ser dados?”.
Em vez disso, os candidatos se apegaram como matamoscas aos seus discursos obsoletos. A única surpresa de McCain foi um novo engano: um plano de resgate de hipotecas que recompensaria os bancos e os investidores sem necessariamente salvar os donos das casas.
Obama recitou seu programa de quatro pontos, infinitamente melhor que o de seu oponente, que dá preferência aos ricos, mas abstrato e carente de detalhes. Segue sendo mais uma promessa retórica que o projeto de uma verdadeira maquinária de reforma. Só fez uma referência passageira à fase seguinte da crise: o desmonte da economia real e o provável desemprego em massa, numa escala que não se via nos últimos 70 anos.
Com desconcertante cortesia em relação ao governo Bush, omitiu-se de assinalar alguns dos encadeamentos débeis do sistema econômico: o perigoso balanço da troca das operações de crédito não-pagas que levou à queda do Lehman Brothers; o buraco negro de um bilhão de dólares em dívidas de cartão de crédito, que poderia ameaçar a solvência do JPMorgan Chase e do Bank of América; a implacável decadência da General Motors e da indústria automobilísticas norte-americana em geral, a pulverização da base das finanças municipais e estaduais, o massacre das ações das empresas de tecnologia e de capital de risco no Vale do Silício e, o mais inesperado, fissuras repentinas na solidez financeira até da General Eletric.
Ademais, Obama e seu candidato a vice, John Biden, afastam qualquer análise do inevitável resultado da cataclísmica restruturação e resgate governamental ao apoiar o plano do secretário do Tesouro, Paulson: não é “socialismo”, mas ultracapitalismo, que concentraria o controle do crédito em alguns bancos leviatãs, dominados em grande parte pelos Fundos Soberanos de Riqueza Nacional, mas subsidiados por gerações em dívida pública e austeridade doméstica.
Jamais tantos norte-americanos comuns tinham estado cravados numa cruz de ouro (ou de derivativos), em que pese Obama se porte como aquele democrata populista iludido que foi três vezes candidato à presidência, William Jennings Bryan, com os modos mais moderados que se possa imaginar. À diferença de Sarah Palin, que mastiga a frase “a classe trabalhadora” com fruição desafiante, Obama se apega a uma linha partidária que só reconhece as necessidades de uma amorfa “classe média” que vive numa mítica “rua principal”.
Se o que nos preocupa é o destino dos pobres ou dos desempregados, não nos resta mais do que entrelinhas, sem ajuda dos postulados de Obama, que irmanam a tecnologia de carbono limpo, energia nuclear e uma das mais poderosas forças armadas, mas eludem a urgência de uma guerra renovada contra a pobreza, como a que propugnou John Edwards em sua campanha para as primárias, que Obama destruiu de maneira tão dolorosa. Contudo, talvez dentro do cauteloso candidato haja um homem cujas paixões humanas transcendam sua míope campanha centrista. Como me disse outro dia um amigo próximo, exasperado pelo mesmo pessimismo crônico, “Não sejas tão injusto. FDR tampouco tinha um programa pronto em 1933. Ninguém o tem”.
Segundo meu amigo, o que Franklin D. Roosevelt sim possuía naquele ano era uma imensa quantidade de pessoas para comprar pão e bancarrotas bancárias; era uma enorme empatia pelo povo simples e uma vontade de experimentar com a intervenção governamental, ainda que de cara tenha tido a monolítica hostilidade da classe média. Segundo esse ponto de vista, Obama é o que a organização MoveOn passa a imaginar de nosso presidente número 32: calmo, forte, em contato profundo com as necessidades das maiorias e disposto a aceitar o conselho dos melhores e mais brilhantes cidadãos do país.
* Mike Davis é historiador e ativista, autor de In Praise of Barbarians: Essays Against Empire [Apologia dos Bárbaros: ensaios contra o império, publicado no Brasil pela Boitempo Editorial], editador por Haymarket Books, 2008 e Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb [O Carro de Buda: breve história do carro bomba] por Verso, 2007. Texto originariamente publicado em TomDispatch.com e reproduzido em La Jornada.
Tradução: Katarina Peixoto
Assim como os primeiros exploradores do Grande Cânion, temos diante de nós um abismo de turbulência econômica e social sem precedente, que confunde nossas percepções prévias do traço histórico. Nossa vertigem se intensifica pela ignorância da profundidade da crise ou de qualquer percepção do abismo em que acabamos de cair. A análise é de Mike Davis.
Mike Davis - La Jornada
Permitam-me começar de forma bastante oblíqua, com o Grande Cânion e o paradoxo de buscar ver mais além do precedente cultural ou histórico.
O primeiro europeu que olhou até as profundidades do Grande Cânion foi o conquistador Garcia López de Cárdenas, em 1540. Horrorizado com a vista, se retirou com rapidez da margem sul. Passaram-se três séculos para que o tenente Joseph Christmas Ives, do corpo de engenheiros topógrafos do exército dos Estados Unidos, encabeçasse a segunda expedição de importância. Como García López, expressou um “assombroso, quase doloroso, presenciar”. Um conhecido artista alemão participou da expedição de Ives, mas o esboço que traçou do Cânion era delirantemente distorcido, quase histérico.
Nem os conquistadores nem os engenheiros do exército, em outras palavras, puderam encontrar sentido no que viram: ficaram sensivelmente melancólicos com a inesperada revelação. Num sentido essencial, estavam cegos porque careciam dos conceitos necessários para organizar uma visão coerente de uma paisagem radicalmente nova.
Só uma geração depois se produziu um retrato preciso do cânion, quando o Rio Colorado voltou à obsessão de John Wesley Powell, herói manco da Guerra de Secessão, e de sua celebrada equipe de geólogos e artistas. Eram como astronautas da era vitoriana num passeio de reconhecimento em outro planeta. Foi preciso anos de brilhante trabalho de campo para construir um marco conceitual que permitisse captar o canion em toda a sua complexidade. Com o “tempo profundo” da dimensão crítica foi possível, por fim, que a percepção crua se transformasse numa visão consistente.
O resultado desse trabalho, "História terciária do distrito do Grande Cânion", publicada em 1882, é ilustrado com obras mestras da arte do desenho que, como uma vez disse Wallace Stegner, biógrafo de Powell, “são mais precisas que qualquer fotografia. Porque – acrescenta – reproduzem detalhes de estratigrafista que em regra ficam obscurecidos nas imagens de uma câmera. Quando hoje em dia visitamos um desses famosos mirantes, a maioria de nós não está consciente de até onde nossa vista foi adestrada por essas imagens icônicas, o quanto nos influenciou a idéia, popularizada por Powell, de que o Cânion é um museu do tempo geológico”.
Mas porque se falou em geologia? Porque, assim como os primeiros exploradores do Grande Cânion, temos diante de nós um abismo de turbulência econômica e social sem precedente, que confunde nossas percepções prévias do traço histórico. Nossa vertigem se intensifica pela ignorância da profundidade da crise ou de qualquer percepção do abismo em que acabamos de cair.
O Retorno de Weimar
Permitam-me confessar que, como velho socialista, de pronto me encontro como o testemunha de Jeová que abre sua janela para ver que na verdade caem estrelas do céu. Ainda que leve anos estudando a teoria marxista da crise, nunca acreditei que viveria para ver na realidade o capitalismo financeiro cometer suicídio. Ou para escutar o Fundo Monetário Internacional advertir sobre a iminência “da derrubada do sistema”.
Por conseguinte, minha reação inicial à queda infame de 777.7 pontos em Wall Street, há duas semanas, foi uma euforia muito sessentista. “Tinhas razão, Karl!”, gritei, “comam seus derivativos e morram, porcos de Wall Street!”. Como o Grande Cânion, a quebra dos bancos pode ser um espetáculo aterrador, mas sublime.
Mas, claro, os verdadeiros culpados não serão levados à guilhotina: descem suavemente até a terra em para-quedas dourados. Pode ocorrer de o resto de nós estarmos num avião em chamas e sem piloto, mas o desprezível Richard Full, que usou o banco Lehman Brothers para saquear fundos de pensões e de aposentadoria, está dando cavalos-de-pau no seu iate.
Ademais, para além dos desertos de estuque da terra do comentarista de rádio Rush Limbaugh, o medo já se destila numa versão para cidadãos brancos rurais do mito da “punhalada nas costas”, que levou os pequeno-burgueses alemães da bancarrota à suástica. Se alguém escuta o programa de rádio AM desse campeão da ultra-direita, vai se inteirar de que o “socialismo” já se apoderou dos EUA, que Barack Hussein Obama é o candidato do terrorismo de Manchuria, que a queda de Wall Street foi causada por velhos negros que teriam empréstimos no Fannie Mae e que os esforços da organização ACORN para registrar votantes vinham há muito tempo alterando os padrões eleitorais com hordas de morenos ilegais.
Em outros tempos, a imitação que Sarah Palin faz de um Charles Coughlin – o sacerdote que defendeu um Reich norte-americano na década de 30 – de vestido teria arrancado gargalhadas. Mas agora, que o modo de vida dos americanos está em súbita queda, o espectro de um fascismo adornado com estrelas não se encontra tão disparatado. Pode ser que a direita perca a eleição, mas já um possui um plano sinistro, provado pela história, para recuperar-se com rapidez.
Os progressistas não têm tempo a perder. Diante de uma nova depressão que promete, de Wassila a Timbuctú, um mundo desconhecido de sofrimento, como podemos reconstruir nossa compreensão da economia globalizada? Até que ponto podemos contar com Obama ou com quem quer que seja dos democratas para que nos ajude a analisar a crise e que de pronto atue com eficácia para resolvê-la?
Obama é outro FDR [Franklin Delano Roosevelt]?
Se nos orientarmos pelo debate no “cabido” de Nashville, logo teremos outro presidente cego. Nenhum dos candidatos teve o brio ou a informação para responder às perguntas simples feitas pelo auditório: “O que ocorrerá com nossos empregos?”, “Até onde a situação piorará?”. “Que passos urgentes devem ser dados?”.
Em vez disso, os candidatos se apegaram como matamoscas aos seus discursos obsoletos. A única surpresa de McCain foi um novo engano: um plano de resgate de hipotecas que recompensaria os bancos e os investidores sem necessariamente salvar os donos das casas.
Obama recitou seu programa de quatro pontos, infinitamente melhor que o de seu oponente, que dá preferência aos ricos, mas abstrato e carente de detalhes. Segue sendo mais uma promessa retórica que o projeto de uma verdadeira maquinária de reforma. Só fez uma referência passageira à fase seguinte da crise: o desmonte da economia real e o provável desemprego em massa, numa escala que não se via nos últimos 70 anos.
Com desconcertante cortesia em relação ao governo Bush, omitiu-se de assinalar alguns dos encadeamentos débeis do sistema econômico: o perigoso balanço da troca das operações de crédito não-pagas que levou à queda do Lehman Brothers; o buraco negro de um bilhão de dólares em dívidas de cartão de crédito, que poderia ameaçar a solvência do JPMorgan Chase e do Bank of América; a implacável decadência da General Motors e da indústria automobilísticas norte-americana em geral, a pulverização da base das finanças municipais e estaduais, o massacre das ações das empresas de tecnologia e de capital de risco no Vale do Silício e, o mais inesperado, fissuras repentinas na solidez financeira até da General Eletric.
Ademais, Obama e seu candidato a vice, John Biden, afastam qualquer análise do inevitável resultado da cataclísmica restruturação e resgate governamental ao apoiar o plano do secretário do Tesouro, Paulson: não é “socialismo”, mas ultracapitalismo, que concentraria o controle do crédito em alguns bancos leviatãs, dominados em grande parte pelos Fundos Soberanos de Riqueza Nacional, mas subsidiados por gerações em dívida pública e austeridade doméstica.
Jamais tantos norte-americanos comuns tinham estado cravados numa cruz de ouro (ou de derivativos), em que pese Obama se porte como aquele democrata populista iludido que foi três vezes candidato à presidência, William Jennings Bryan, com os modos mais moderados que se possa imaginar. À diferença de Sarah Palin, que mastiga a frase “a classe trabalhadora” com fruição desafiante, Obama se apega a uma linha partidária que só reconhece as necessidades de uma amorfa “classe média” que vive numa mítica “rua principal”.
Se o que nos preocupa é o destino dos pobres ou dos desempregados, não nos resta mais do que entrelinhas, sem ajuda dos postulados de Obama, que irmanam a tecnologia de carbono limpo, energia nuclear e uma das mais poderosas forças armadas, mas eludem a urgência de uma guerra renovada contra a pobreza, como a que propugnou John Edwards em sua campanha para as primárias, que Obama destruiu de maneira tão dolorosa. Contudo, talvez dentro do cauteloso candidato haja um homem cujas paixões humanas transcendam sua míope campanha centrista. Como me disse outro dia um amigo próximo, exasperado pelo mesmo pessimismo crônico, “Não sejas tão injusto. FDR tampouco tinha um programa pronto em 1933. Ninguém o tem”.
Segundo meu amigo, o que Franklin D. Roosevelt sim possuía naquele ano era uma imensa quantidade de pessoas para comprar pão e bancarrotas bancárias; era uma enorme empatia pelo povo simples e uma vontade de experimentar com a intervenção governamental, ainda que de cara tenha tido a monolítica hostilidade da classe média. Segundo esse ponto de vista, Obama é o que a organização MoveOn passa a imaginar de nosso presidente número 32: calmo, forte, em contato profundo com as necessidades das maiorias e disposto a aceitar o conselho dos melhores e mais brilhantes cidadãos do país.
* Mike Davis é historiador e ativista, autor de In Praise of Barbarians: Essays Against Empire [Apologia dos Bárbaros: ensaios contra o império, publicado no Brasil pela Boitempo Editorial], editador por Haymarket Books, 2008 e Buda's Wagon: A Brief History of the Car Bomb [O Carro de Buda: breve história do carro bomba] por Verso, 2007. Texto originariamente publicado em TomDispatch.com e reproduzido em La Jornada.
Tradução: Katarina Peixoto
Marcadores:
Análise,
Crise do Capital,
Economia Política
Assinar:
Comentários (Atom)